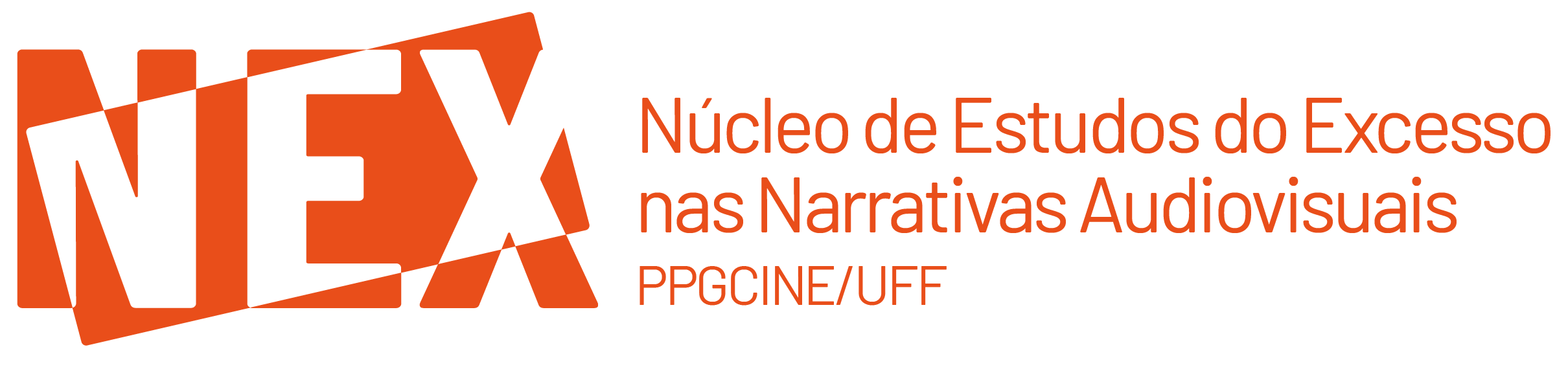Gêneros do corpo e as disciplinas de educação sentimental burguesa
Por Mariana Baltar
Em ” Notas sobre a cultura somática”, Jurandir Freire Costa vai reavaliando as crenças e o papel relegado ao corpo na educação sentimental burguesa, para então mapear as mudanças que constituem a contemporânea cultura e personalidades somáticas. Com base em Peter Gay e Norbert Elias, resume desse modo os conjuntos de disciplinas que normalizaram o corpo e seus sentidos no contexto moderno de construção do homem sentimental: “As disciplinas sexuais visavam a moderar os prazeres sensuais de modo a drená-los par ao sentimentalismo amoroso, o cuidado com a família ou a sublimação artístico-científica. As intelectuais buscavam adequar os sentidos e a motricidade às exigências da cultura erudita: ler em voz baixa e de forma correta, escrever bem (…).
As higiênicas tinham por objetivo adestrar a visão, a audição, o tato, o gosto e o olfato, de modo a despertar nos indivíduos desprezo ou repulsa pela sujeira, feiúra e grosseria dos corpos mal-educados.(…) Por fim, as disciplinas de apresentação socialou regras de etiqueta ensinavam aos indivíduos como se vestir, andar, sorrir, sentar, receber convidados, conversar, dançar, cantar, tocar nutrimentos musicais etc. a fim de que o ‘ berço’ dos bem-nascidos fosse evidente à primeira vista” (p.207).
Pensando na dupla dimensão da pedagogia das sensações, bem poderíamos notar como cada uma dessas disciplinas responde correlatamente a um gênero (do corpo) institucionalizado ao longo do projeto de modernidade. Assim, as disciplinas sexuais correlacionam-se ao domínio da pornografia; as intelectuais, ao realismo; as higiênicas, ao horror; e as de apresentação social, ao melodrama. Forças análogas que respondem a uma sensibilidade comum, colocando os gêneros como instrumentos do projeto de educação sentimental. Dispositivos de uma pedagogia das sensações que alimenta e orienta tal projeto.
Parece um caminho a ser traçado, que tem a imensa vantagem de incluir o domínio do realismo no universo sensório-sentimental da pedagogia das sensações. Vejamos onde isso vai dar.
Melodrama e Coutinho
Por Mariana Baltar
Em uma das críticas recentes sobre o novo filme de Eduardo Coutinho, Ricardo Calil decreta, como uma imensa novidade, que o documentarista é também o rei do melodrama.
Vale a pena conferir o que Calil coloca e mais especialmente o que o público comenta no blog.
Um comentário em particular me chamou atenção pois associava diretamente o melodrama ao poder de envolvimento da platéia, comentando os aplausos no final da sessão.
Calil considera melodrama em Coutinho filmes mais obviamente atravessados pelo melodramático: Edifício Master, Jogo de Cena e As Canções. Desde de 2007, no mínimo, ano em que defendi minha tese de doutorado Realidade Lacrimosa, canto essa pedra dos diálogos de outros filmes de Coutinho, e outros documentários contemporâneos, com o melodrama. Um diálogo rico em dimensões reflexivas tanto sobre o filme quanto, e sobretudo, sobre as formas de perceber o mundo dos personagens que se performam (lembremos aqui do conceito de performance do Goffman)para o documentarista. Na performance, expoem-se os modos de narrar-se a si mesmo, a dimensão auto-fabulativa que nos acomete, sempre, e em especial, quando somos convocados a contar nossa história.Nesse sentido, mais que nos filmes citados por Calil, lembro de Peões, onde a moral familiar e trabalhadora se apresenta melodramaticamente a cada depoimento em um jogo de espelhamento emotivo, identificatório entre os personagens e Lula. Mais especialmente, lembro dos trechos de Henok e de seu Antônio, onde ouvimos, a cada instante, Coutinho buscar na dimensão privada e familiar (a lembrança das esposas já falecidas)um trigger para a emoção, ligando assim, memória privada à memória coletiva, estabelecendo o engajamento passional entre obra e público.
“Isso aconteceu”, descrição e o efeito do real
Por Mariana Baltar
E nesse caminho, pensando a questão da descrição como central para a construção dos discursos (sejam estes excessivos ou realistas) trabalhamos dois textos do Barthes:
Realistic Excessive Vision
Por Mariana Baltar
Nos últimos encontros temos nos dedicado à refletir sobre as tensões entre uma tradição realista e as matrizes do excesso. tensões de ordem narrativa, mas também de ordem de legitimidade na escala de valores e autorizações sócio-históricas da modernidade. E novamente, é Peter Brooks quem nos ajuda nesse caminho a ser trilhado. Engraçado (aliás, sintomático) que o mesmo autor que inspirou configurar categorias para enxergar o excesso no emaranhado da imaginação melodramática, se mostra como um instigante o caminho inicial para começar a dar conta desse vasto e impreciso mundo do realismo. Ou, como ele mesmo diz, da visão realista (seu livro tem como título Realist Vision).
Uma pista (que em minha tese de doutorado – Realidade Lacrimosa – já perseguia): as visões/imaginações realistas e melodramáticas não são tão polarizadas assim e ambas são formadoras do projeto de modernidade. e não é acaso que um mesmo elemento – com funções e procedimentos por vezes distintos – seja a marca narrativas destas duas imaginações: a descrição.
Perguntas que saltam: que distingue a descrição excessiva da descrição realista? Que vínculos – tão atávicos – se tecem entre a descrição como procedimento narrativo e centralidade da visualidade no projeto de modernidade (o tal Frenesi do Visível como nomeia Linda Williams)? Que relações se estabelecem entre a descrição e os procedimentos de simbolização? Como a descrição se comporta em narrativas tecidas em imagens e sons?
As perguntas crescem… e as pistas de respostas (ou mais problemas) parecem estar em Barthes (efeito de real e discurso da história), ainda no Brooks e … (complete os espaços…).