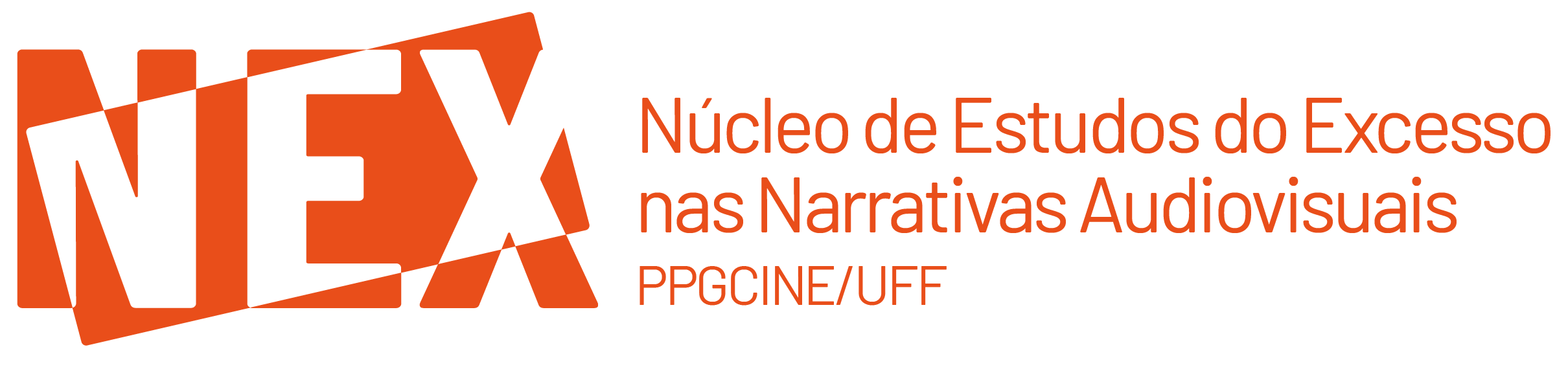por alepri | nov 30, 2010 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
A noção de pedagogia das sensações procura dar conta das implicações (politico-culturais e narrativas) de discursos que parecem compartilhar entre si estratégias comuns vinculadas ao modo de excesso. Essa matriz comum garante uma relação com o público pautada no pathos e em uma lógica de engajamento sensório-sentimental.
O pressuposto (e proposta para reflexão) é que essa lógica sensório e sentimental é igualmente fundante do projeto de modernidade, o que resulta no impulso pedagogizante do sensacional, presentificado a partir do fio condutor do excesso (são narrativas, portanto, que tem traços em comum, a despeito das diferenças internas).
O excesso aparece como estratégia temática e estética no diálogo com o público, atuando através de uma lógica pautada no pathos. Mas ele é também elemento importante na esfera de “pedagogização” de uma lógica sensacional e sentimental que se expressa ao lidar, via formatos narrativos associados ao gosto popular (retomando aqui a matriz popular do excesso, conforme teoriza Jesús Martin-Barbero), com tensões e anseios da modernidade. De um lado, “ensinando/cristalizando” sobre a experiência da modernidade a partir de um sensacional, mobilizando o universo dos estímulos (na linha do que trabalha o Ben Singer, por exemplo, a partir do Simmel) e, de outro, “domesticando” o lugar do sensacional na modernidade (e ai, claro, bastante coerente com o tão apontado projeto moralizador dos “gêneros do corpo”).
No mergulho analítico e conceitual, partimos, a princípio, dos gêneros (entendendo este não como um conjunto de códigos estanques e imutáveis, mas seguindo a pista mais ampla de uma abordagem que Rick Altman nomeia como sintática/semântica/pragmática) definidos por Linda Williams como “gêneros do corpo” (a saber, o melodrama, a pornografia e o horror), mas reconhecemos que eles não estão sozinhos (poderiamos incluir o musical e certo tipo de comédia, por exemplo). Também entendemos que é preciso, para além do mergulho no universo genérico, cercar o conceito do excesso como elemento estilistico (tecido na narrativa) bem como matriz cultural.
O excesso é um conceito complexo e o NEX!!! – Nucleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais tem se debatido sobre isso. Como matriz cultural, tem nos ajudado os trabalhos do Jesus Martin-Barbero, do Bakhtin e do Peter Burke (todos pelas leituras das estratégias e matrizes de uma cultura popular). Mas o nó aparece ao precisar o excesso como elemento estético (se me permite o uso do termo). Por enquanto, estamos apostando na leitura do excesso como uma “aglutinação” do espetáculo e do êxtase, onde, grosso modo:
* o primeiro coagula o universo moralizante da narrativa stricto senso (contruindo vetores de identificação, incorporando um impulso do realismo sem ser realista – para poder justamente sustentar o efeito pedagógico moralizante do engajamento passional proposto, por exemplo, no melodrama.
* o segundo condensa o universo do êxtase, entendido como intensidade, estímulos sensoriais, pulsação, choque. Uma matriz, diga-se de passagem, igualmente importante para certa tradição da vanguarda (penso na dos anos 1920, por exemplo, ou em certos filmes do Brakhage); e daí, o que distingue o extasiastico da vanguarda (uma face do excesso, sem dúvida) do Excesso dos “gêneros do corpo” talvez seja a ausência ou submissão da face do espetáculo.
É uma aposta não totalmente pacificada, pois, ainda me incomoda nela um certo binarismo que apaga a contradição constitutiva dessas narrativas do excesso. E acho que devemos é abraçar a ambivalência. Mas sigo com aposta, vejamos no que dá.
Lembro ainda que a ideia de uma pedagogia das sensações nasceu, ainda na época da minha tese, a partir dos diálogos com a Prof. Ana Lúcia Enne, que na época, junto com a Prof. Marialva Barbosa, trabalhava o universo do sensacionalismo (pensando este como inserido no fluxo do sensacional, ou seja, vinculado à matriz cultural popular).
por alepri | set 26, 2010 | NEX!!!
Por Bruno Roger
No nosso último encontro, discutimos os conceitos de Kitsch e Camp a luz de Umberto Eco e Susan Sontag. Alguns apontamentos nos trouxeram mais próximos a compreensão do universo das narrativas de excesso.
Primeiramente, discutimos a importância do capital cultural do sujeito como pré-requisito para a fruição de produtos culturais instituídos como de mau gosto. O exagero dos mesmos é a grande força promotora do consumo por uma classe “esclarecida”, que se envolve com outro olhar a esses produtos.
Em relação a diferença entre o Kitsch e o Camp, pode-se dizer que o primeiro está mais próximo a uma celebração passional. No qual, uma lógica de espetáculo se dá devido à relevância do valor e do conteúdo dessas manifestações. Já o Camp, molda-se por sensibilizar através de uma representação por meio do artifício. A estética, no Camp, é o alvo mais importante da fruição e o Kitsch subordina uma interpretação do observador.
O feio, consequentemente, é apenas um uso estético numa época que os referentes se perderam. E o excesso, em sua dimensão estética do artifício, da teatralidade e da aparência desenvolve-se no exagero.
por alepri | jun 14, 2010 | NEX!!!
Por Bruno Roger
O cinema clássico narrativo, estruturalmente, utiliza uma força unificadora em sua narrativa. A realidade é apresentada por uma montagem clássica, continuidade entre os eventos e o sistema de causa e consequência. Contudo, outra lógica também está presente na modernidade – a fora do padrão, que provoca estranhamento e não se encaixa num modelo de contenção. Essa é a lógica do excesso.
Será que esses dois posicionamentos distintos dialogam entre si? Ou melhor, nenhum desses esquemas narrativos caminham separados? No NEX pensamos que não, eles não caminham separados e que sim, eles dialogam. O que seria do cinema hollywoodiano clássico sem a presença dos elementos do melodrama e do horror?
A confusão começa quando Kristin Thompson no texto “The concept of Cinematic Excess” aponta que o excesso se opõem radicalmente ao cinema clássico. Em sua leitura, aproxima o conceito de sentido obtuso de Barthes com o excesso. Entenda-se por sentido obtuso o que se mostra sem função na narrativa – não pertence a lógica estrutural da narrativa.
O grupo do NEX ao ler o pensamento de Kristin, um tanto quanto equivocado, entrou num conflito. Ora, sabemos que o excesso está inserido sim na estrutura narrativa. Sua função é presente e visível. Retornamos a Linda Williams que esclarece a constituição do excesso em duas vias: a do êxtase e a do espetáculo. O êxtase proporciona revelar o estilo de vida contido e promover o estranhamento que isso causa. Já o espetáculo, mais próximo de uma lógica moralizante, pode exibir em sua narrativa imagens estruturadas no aparato sensório-sentimental, assim, capaz de engajar afetivamente o espectador, em consequência, obter uma eficácia moral.
Com isso, percebemos que o excesso não está a parte dos mecanismos da indústria cultural. Ou seja, apenas em filmes não transparentes – os quais evidenciam seus dispositivos e jogam com essas possibilidades – se apropriam do excesso como diz K. Thompson. No corpo da narrativa clássica também convive o excesso. E essa narrativa torna a ação moralizante concreta e com significado.
por alepri | maio 10, 2010 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
Nexianos do mundo, uni-vos em torno do excesso.
Começamos a pensar mais especificamente sobre esse mundo tão certo e tão obscuro ao mesmo tempo que é o excesso (o que é e como se comporta) nas narrativas. começamos discutindo o texto da Kristin Thompson e foi incrivel, espetacular (palavras excessivas, notem! mas como diz Mario de Andrade, é preciso exclamar para deixar a vida agir, ou algo do gênero).
uma reiteração de descobertas foi a noção de que a pedagogia moralizante se dá investida no universo propriamente narrativo dos discursos. e nesse sentido, se seguirmos as formulações da Thompson (inspiradas no ensaio de Barthes O terceiro sentido, que compoe O óbvio e o obstuso), não exatamente no elemento do excesso propriamente dito, embora, para o universo moralizante dos gêneros da trilogia das sensações, o excesso seja sim, central.
precisamos refletir melhor sobre isso, claro. convoco Fernanda, Erica e Bruno para fazerem seus post relatando o encontro e o texto da Thompson.
enquanto isso, seguimos, dessa vez estudando o próprio Barthes.
e, claro, seguimos correlacionando com a questão da serialização (vejam meu comentário ao post da Érica sobre narrativas pessoais!)de que modo o excesso da trilogia das sensações é de fato uma estratégia de fidelização para programas que são, cada vez mais, flexi-narrativos e flexi-gêneros?
por alepri | abr 30, 2010 | NEX!!!
Por Érica Sarmet
Bom, retomando a discussão do meu post anterior, se fôssemos classificar as séries de acordo com a maneira como as narrativas pessoais dos personagens se estruturam, teríamos dois (na verdade três, com as sitcoms e séries criminais) lugares bem diferentes:
1) Seriados em que o “trabalho” é a temática central, como Grey’s Anatomy, House, ER, Charmed, Supernatural: possuem narrativas que se desenvolvem e tem fim em cada episódio (por ex: pacientes, monstros a serem destruídos), porém as “narrativas pessoais” dos personagens principais são contínuas, o que pode atrapalhar o entendimento completo de um telespectador não-assíduo. Tendo como exemplo a série“Grey’s Anatomy”: o espectador pode acompanhar o que acontece com os pacientes e as cirurgias daquele episódio específico, mas talvez não compreenda porque um personagem está brigado com o outro, porque um deles está deprimido ou a quem eles estão se referindo ao dizerem “McDreamy” e “McSteamy”. Resumindo: mesmo possuindo arcos narrativos que começam e terminam no mesmo episódio, como as sitcoms e séries criminais, esses seriados se distinguem por possuirem arcos narrativos paralelos que se estendem ao longo dos episódios e das temporadas – quase sempre sendo a vida pessoal dos personagens o fio condutor dessas narrativas.
2) Seriados em que a vida pessoal dos personagens é a temática central, como Lost, Brothers and Sisters, True Blood, Vampire Diaries: apresentam quase que somente narrativas contínuas, tanto dos personagens quanto dos próprios episódios. Raramente algo que acontece em um episódio se limita a ele, como um personagem que surge em determinado episódio com uma narrativa própria e vai embora ao final dele com seu desfecho definido. É como se esses seriados se estruturassem como uma narrativa única com várias ramificações (o conceito de “flexi-narrativo*” se aplica completamente). É dificil chamá-las de “narrativas paralelas”, porque quase todas estão conectadas. A segunda temporada de“True Blood” é um ótimo exemplo: todas as narrativas próprias que cada personagem desenvolve acabam estando diretamente ligadas ao arco narrativo principal, que é a presença da Marianne em Bons Temps. Um espectador não acostumado a acompanhar um desses seriados pode ter dificuldades de compreender um episódio isolado dos outros.
A ideia, portanto, seria de que as séries e seriados poderiam ser classificados, também, com base na vida pessoal e na vida profissional dos personagens como condutores da narrativa. As sitcoms e séries criminais, tendo como temática central o trabalho, não desenvolvem as narrativas pessoais dos personagens. Já seriados médicos e sobrenaturais, como House e Charmed, também possuem o trabalho como sua temática central, porém as tramas pessoais são mais bem desenvolvidas e os personagens, mais complexificados. Seriados cuja vida profissional dos personagens estão em segundo plano, como Brothers and Sisters e True Blood, tendem a ter todas as narrativas desenvolvidas de maneira contínua e interligada, personagens super complexos, etc.
Essas definições não são fixas, como a Mariana bem frisou em seu post, mas são interessantes para discutirmos as classificações com base na estrutura da narrativa. Se séries são os programas que tem um desfecho definido, como Lost, e seriados são aqueles cujo desfecho está sempre em aberto, como True Blood, como esses dois produtos audiovisuais são tão parecidos em termos de estrutura narrativa? Isso seria o suficiente para colocá-las na mesma categoria? A maneira como as narrativas pessoais dos personagens são desenvolvidas é relevante o bastante para criar uma nova categoria de classificação? Será que todas as séries podem ser definidas por essas questões?
*flexi-narrativo: quando os arcos narrativos da obra são múltiplos e se apresentam como tramas de começo, meio e fim que podem se desenvolver em único episódio, como no caso das sitcoms, ou em uma temporada, como nos seriados.