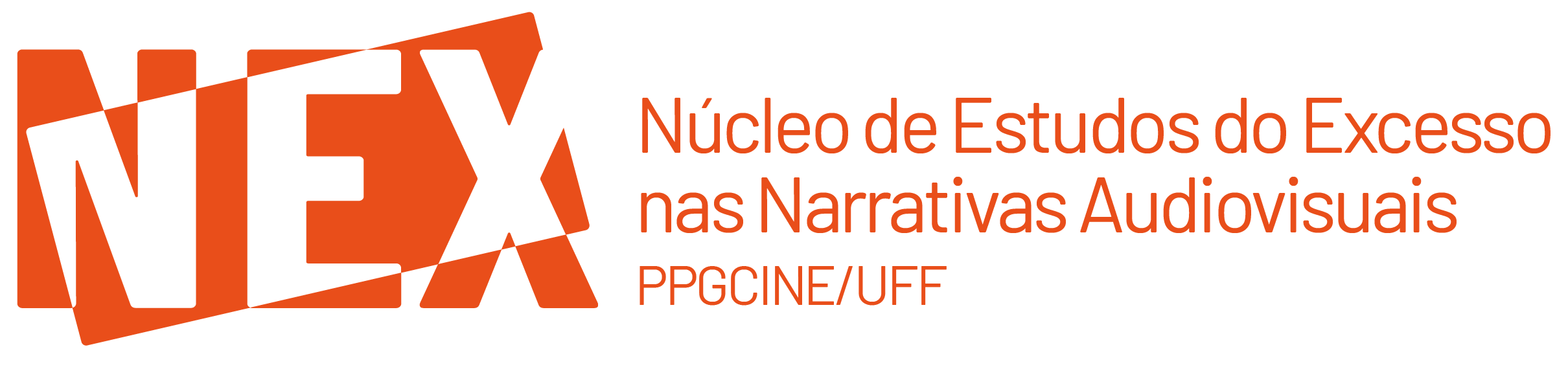por alepri | fev 27, 2012 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
Em ” Notas sobre a cultura somática”, Jurandir Freire Costa vai reavaliando as crenças e o papel relegado ao corpo na educação sentimental burguesa, para então mapear as mudanças que constituem a contemporânea cultura e personalidades somáticas. Com base em Peter Gay e Norbert Elias, resume desse modo os conjuntos de disciplinas que normalizaram o corpo e seus sentidos no contexto moderno de construção do homem sentimental: “As disciplinas sexuais visavam a moderar os prazeres sensuais de modo a drená-los par ao sentimentalismo amoroso, o cuidado com a família ou a sublimação artístico-científica. As intelectuais buscavam adequar os sentidos e a motricidade às exigências da cultura erudita: ler em voz baixa e de forma correta, escrever bem (…).
As higiênicas tinham por objetivo adestrar a visão, a audição, o tato, o gosto e o olfato, de modo a despertar nos indivíduos desprezo ou repulsa pela sujeira, feiúra e grosseria dos corpos mal-educados.(…) Por fim, as disciplinas de apresentação socialou regras de etiqueta ensinavam aos indivíduos como se vestir, andar, sorrir, sentar, receber convidados, conversar, dançar, cantar, tocar nutrimentos musicais etc. a fim de que o ‘ berço’ dos bem-nascidos fosse evidente à primeira vista” (p.207).
Pensando na dupla dimensão da pedagogia das sensações, bem poderíamos notar como cada uma dessas disciplinas responde correlatamente a um gênero (do corpo) institucionalizado ao longo do projeto de modernidade. Assim, as disciplinas sexuais correlacionam-se ao domínio da pornografia; as intelectuais, ao realismo; as higiênicas, ao horror; e as de apresentação social, ao melodrama. Forças análogas que respondem a uma sensibilidade comum, colocando os gêneros como instrumentos do projeto de educação sentimental. Dispositivos de uma pedagogia das sensações que alimenta e orienta tal projeto.
Parece um caminho a ser traçado, que tem a imensa vantagem de incluir o domínio do realismo no universo sensório-sentimental da pedagogia das sensações. Vejamos onde isso vai dar.
por alepri | dez 13, 2011 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
Em uma das críticas recentes sobre o novo filme de Eduardo Coutinho, Ricardo Calil decreta, como uma imensa novidade, que o documentarista é também o rei do melodrama.
Vale a pena conferir o que Calil coloca e mais especialmente o que o público comenta no blog.
Um comentário em particular me chamou atenção pois associava diretamente o melodrama ao poder de envolvimento da platéia, comentando os aplausos no final da sessão.
Calil considera melodrama em Coutinho filmes mais obviamente atravessados pelo melodramático: Edifício Master, Jogo de Cena e As Canções. Desde de 2007, no mínimo, ano em que defendi minha tese de doutorado Realidade Lacrimosa, canto essa pedra dos diálogos de outros filmes de Coutinho, e outros documentários contemporâneos, com o melodrama. Um diálogo rico em dimensões reflexivas tanto sobre o filme quanto, e sobretudo, sobre as formas de perceber o mundo dos personagens que se performam (lembremos aqui do conceito de performance do Goffman)para o documentarista. Na performance, expoem-se os modos de narrar-se a si mesmo, a dimensão auto-fabulativa que nos acomete, sempre, e em especial, quando somos convocados a contar nossa história.Nesse sentido, mais que nos filmes citados por Calil, lembro de Peões, onde a moral familiar e trabalhadora se apresenta melodramaticamente a cada depoimento em um jogo de espelhamento emotivo, identificatório entre os personagens e Lula. Mais especialmente, lembro dos trechos de Henok e de seu Antônio, onde ouvimos, a cada instante, Coutinho buscar na dimensão privada e familiar (a lembrança das esposas já falecidas)um trigger para a emoção, ligando assim, memória privada à memória coletiva, estabelecendo o engajamento passional entre obra e público.
por alepri | nov 10, 2011 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
E nesse caminho, pensando a questão da descrição como central para a construção dos discursos (sejam estes excessivos ou realistas) trabalhamos dois textos do Barthes:
Efeito do real e O discurso da história;
De cara ele já nos propõe uma questão, que já estamos tateando a algum tempo em nossas reuniões: O que separa uma narração ficcional de uma narração do real? Seriam elas realmente distante e, portanto, facilmente distintas? E qual característica forjaria essa “separação”?
Dentro da retórica realista, o efeito de real é essencial para que se atinja o propósito de um discurso que pretende reproduzir a realidade. Daí a descrição é utilizada para inserir elementos e objetos que construam essa realidade, sem necessariamente dar/conter sentido- a descrição como vazio de sentido. No entanto, Barthes logo aponta a inconsistência de tal premissa: o que supostamente é apenas constatativo (descritivo), imprime no discurso, pois age nele como significante, a marca da ideologia, da autoridade do “ato de fala”.
A ilusão referencial (a ideia de “somos o real”/”isso aconteceu” ao qual discurso da história aspira e tenta construir através da descrição) , sustenta-se na ideia de que o referente, o real, não é significado pelo discurso; um referente onipotente que negaria significação.
Os detalhes, inseridos através da descrição, longe de serem vazios, indicam/geram leituras e/ou usos. Mesmo a “insignificância” tem seu significado.
Conversando chegamos duas formas de descrição que pretendemos analisar: uma a descrição adjetiva (clássica), da retórica do excesso, efeito de espetáculo/êxtase, que simboliza a moral oculta, satura e preenche; e a outra uma descrição substantiva (realista) que simboliza o efeito do real.
Outra questão: a Imagem é uma descrição ou uma narração? Ou seria ela ambas?
Propomos então um desafio para todos que queiram conosco embarcar nessa aventura:
– Onde está a descrição em um filme?
– O que é descrever em uma imagem/através de imagens e sons?
– O que caracterizaria uma descrição audiovisual de retórica realista? E a descrição de retórica excessiva, quais são suas marcas?
Coloco aqui, dois possíveis objetos de análise:
A abertura de True Blood, fortemente pautada em sensações
http://www.youtube.com/watch?v=vxINMuOgAu8
E a abertura da série inglesa Downton Abbey, na qual a função descritiva parece mais presente:
http://www.youtube.com/watch?v=3PNniUuVXGs
Podemos começar por eles, mas a ideia seria expandir a análise para filmes, principalmente os mais clássicos, e tentar construir respostas para as perguntas que colocamos.
por alepri | out 30, 2011 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
Nos últimos encontros temos nos dedicado à refletir sobre as tensões entre uma tradição realista e as matrizes do excesso. tensões de ordem narrativa, mas também de ordem de legitimidade na escala de valores e autorizações sócio-históricas da modernidade. E novamente, é Peter Brooks quem nos ajuda nesse caminho a ser trilhado. Engraçado (aliás, sintomático) que o mesmo autor que inspirou configurar categorias para enxergar o excesso no emaranhado da imaginação melodramática, se mostra como um instigante o caminho inicial para começar a dar conta desse vasto e impreciso mundo do realismo. Ou, como ele mesmo diz, da visão realista (seu livro tem como título Realist Vision).
Uma pista (que em minha tese de doutorado – Realidade Lacrimosa – já perseguia): as visões/imaginações realistas e melodramáticas não são tão polarizadas assim e ambas são formadoras do projeto de modernidade. e não é acaso que um mesmo elemento – com funções e procedimentos por vezes distintos – seja a marca narrativas destas duas imaginações: a descrição.
Perguntas que saltam: que distingue a descrição excessiva da descrição realista? Que vínculos – tão atávicos – se tecem entre a descrição como procedimento narrativo e centralidade da visualidade no projeto de modernidade (o tal Frenesi do Visível como nomeia Linda Williams)? Que relações se estabelecem entre a descrição e os procedimentos de simbolização? Como a descrição se comporta em narrativas tecidas em imagens e sons?
As perguntas crescem… e as pistas de respostas (ou mais problemas) parecem estar em Barthes (efeito de real e discurso da história), ainda no Brooks e … (complete os espaços…).
por alepri | nov 30, 2010 | NEX!!!
Por Mariana Baltar
A noção de pedagogia das sensações procura dar conta das implicações (politico-culturais e narrativas) de discursos que parecem compartilhar entre si estratégias comuns vinculadas ao modo de excesso. Essa matriz comum garante uma relação com o público pautada no pathos e em uma lógica de engajamento sensório-sentimental.
O pressuposto (e proposta para reflexão) é que essa lógica sensório e sentimental é igualmente fundante do projeto de modernidade, o que resulta no impulso pedagogizante do sensacional, presentificado a partir do fio condutor do excesso (são narrativas, portanto, que tem traços em comum, a despeito das diferenças internas).
O excesso aparece como estratégia temática e estética no diálogo com o público, atuando através de uma lógica pautada no pathos. Mas ele é também elemento importante na esfera de “pedagogização” de uma lógica sensacional e sentimental que se expressa ao lidar, via formatos narrativos associados ao gosto popular (retomando aqui a matriz popular do excesso, conforme teoriza Jesús Martin-Barbero), com tensões e anseios da modernidade. De um lado, “ensinando/cristalizando” sobre a experiência da modernidade a partir de um sensacional, mobilizando o universo dos estímulos (na linha do que trabalha o Ben Singer, por exemplo, a partir do Simmel) e, de outro, “domesticando” o lugar do sensacional na modernidade (e ai, claro, bastante coerente com o tão apontado projeto moralizador dos “gêneros do corpo”).
No mergulho analítico e conceitual, partimos, a princípio, dos gêneros (entendendo este não como um conjunto de códigos estanques e imutáveis, mas seguindo a pista mais ampla de uma abordagem que Rick Altman nomeia como sintática/semântica/pragmática) definidos por Linda Williams como “gêneros do corpo” (a saber, o melodrama, a pornografia e o horror), mas reconhecemos que eles não estão sozinhos (poderiamos incluir o musical e certo tipo de comédia, por exemplo). Também entendemos que é preciso, para além do mergulho no universo genérico, cercar o conceito do excesso como elemento estilistico (tecido na narrativa) bem como matriz cultural.
O excesso é um conceito complexo e o NEX!!! – Nucleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais tem se debatido sobre isso. Como matriz cultural, tem nos ajudado os trabalhos do Jesus Martin-Barbero, do Bakhtin e do Peter Burke (todos pelas leituras das estratégias e matrizes de uma cultura popular). Mas o nó aparece ao precisar o excesso como elemento estético (se me permite o uso do termo). Por enquanto, estamos apostando na leitura do excesso como uma “aglutinação” do espetáculo e do êxtase, onde, grosso modo:
* o primeiro coagula o universo moralizante da narrativa stricto senso (contruindo vetores de identificação, incorporando um impulso do realismo sem ser realista – para poder justamente sustentar o efeito pedagógico moralizante do engajamento passional proposto, por exemplo, no melodrama.
* o segundo condensa o universo do êxtase, entendido como intensidade, estímulos sensoriais, pulsação, choque. Uma matriz, diga-se de passagem, igualmente importante para certa tradição da vanguarda (penso na dos anos 1920, por exemplo, ou em certos filmes do Brakhage); e daí, o que distingue o extasiastico da vanguarda (uma face do excesso, sem dúvida) do Excesso dos “gêneros do corpo” talvez seja a ausência ou submissão da face do espetáculo.
É uma aposta não totalmente pacificada, pois, ainda me incomoda nela um certo binarismo que apaga a contradição constitutiva dessas narrativas do excesso. E acho que devemos é abraçar a ambivalência. Mas sigo com aposta, vejamos no que dá.
Lembro ainda que a ideia de uma pedagogia das sensações nasceu, ainda na época da minha tese, a partir dos diálogos com a Prof. Ana Lúcia Enne, que na época, junto com a Prof. Marialva Barbosa, trabalhava o universo do sensacionalismo (pensando este como inserido no fluxo do sensacional, ou seja, vinculado à matriz cultural popular).
por alepri | set 26, 2010 | NEX!!!
Por Bruno Roger
No nosso último encontro, discutimos os conceitos de Kitsch e Camp a luz de Umberto Eco e Susan Sontag. Alguns apontamentos nos trouxeram mais próximos a compreensão do universo das narrativas de excesso.
Primeiramente, discutimos a importância do capital cultural do sujeito como pré-requisito para a fruição de produtos culturais instituídos como de mau gosto. O exagero dos mesmos é a grande força promotora do consumo por uma classe “esclarecida”, que se envolve com outro olhar a esses produtos.
Em relação a diferença entre o Kitsch e o Camp, pode-se dizer que o primeiro está mais próximo a uma celebração passional. No qual, uma lógica de espetáculo se dá devido à relevância do valor e do conteúdo dessas manifestações. Já o Camp, molda-se por sensibilizar através de uma representação por meio do artifício. A estética, no Camp, é o alvo mais importante da fruição e o Kitsch subordina uma interpretação do observador.
O feio, consequentemente, é apenas um uso estético numa época que os referentes se perderam. E o excesso, em sua dimensão estética do artifício, da teatralidade e da aparência desenvolve-se no exagero.